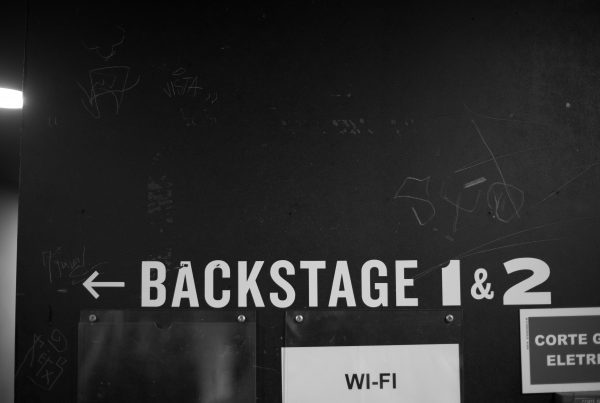Julho de 2021. Por cerca de 200 milhões de dólares, Bob Dylan vende à Sony Music Entertainment os direitos de reprodução e distribuição de todas as suas canções. O trabalho de uma vida, construído ao longo de seis décadas. Dezembro de 2021. Desta feita, o conglomerado norte-americano adquire, por perto de 500 milhões de dólares, as gravações originais das músicas de Bruce Springsteen. Janeiro de 2022. A Warner Chappell Music investe 250 milhões de dólares na compra do catálogo de David Bowie.
Poderíamos continuar.
Estamos perante uma tendência na indústria da música. Grandes conglomerados – detentores de várias editoras discográficas -, empresas de capital privado e fundos de investimento desembolsaram quantias assinaláveis para comprar os repertórios de artistas com carreiras longas e de sucesso (sobretudo, mas não só). Quem diz Dylan, Springsteen e Bowie também pode dizer, por exemplo, Neil Young, Paul Simon, Tina Turner, Whitney Houston, Stevie Nicks ou a banda Blondie. Artistas e bandas que não têm a mesma longevidade que os nomes referidos e cujos catálogos também foram adquiridos recentemente incluem Shakira, David Guetta e os Imagine Dragons.
Para os compradores dos catálogos, os benefícios são evidentes. É interessante ter os direitos da obra de alguém como Bob Dylan, pois é gerado lucro sempre que a sua música é usada em filmes, séries ou anúncios. As motivações dos artistas também serão óbvias: estão a abdicar da sua propriedade intelectual, mas estão a receber quantias milionárias. Para muitos destes músicos, as suas carreiras já vão longas, pelo que estes podem ser os últimos grandes cheques das suas vidas – sobretudo após a pandemia ter fragilizado o sector da música ao vivo; sobretudo numa era em que os discos vendem pouco e o streaming não paga muito.
É certo que a compra de catálogos não constitui uma novidade. Uma das aquisições mais célebres data de 1985, quando Michael Jackson seguiu o conselho do até então amigo Paul McCartney, que havia recomendado ao autor de Thriller investir na aquisição de catálogos, e comprou o catálogo dos Beatles por 47 milhões de dólares. Uma década depois, as canções dos Fab Four seriam vendidas pelo dobro dessa quantia.
A aquisição de catálogos não começou ontem, dizíamos. Mas está a haver um boom sem precedentes, cujo pico foi em 2021. De onde veio esse boom? E de que modo afecta artistas que ainda estão a tentar encontrar o seu lugar num mercado saturado?
As editoras buscarão sempre talento emergente, mas algumas estradas estão mais congestionadas
O jornalista americano David Turner, que escreve regularmente sobre a indústria musical na mui valiosa newsletter Penny Fractions, explica-nos que, nos Estados Unidos, o boom foi possibilitado pela Grande Recessão, o colapso económico do final dos anos 2000. Devido à crise, o banco central dos Estados Unidos baixou as taxas de juro, o que beneficiou investidores (quando as taxas de juro baixam, pedir um empréstimo a um banco torna-se mais barato).
Segundo o jornalista, a compra, em 2009, dos catálogos de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II – dupla americana que criou vários musicais importantes nos anos 1940 e 1950 – terá sido marcante, ajudando a activar a curiosidade em catálogos musicais. Esse interesse intensificou-se na década de 2010 e culminou num 2021 insano. Mas é possível que, agora, a febre esteja a abrandar. Com o aumento da inflação nos Estados Unidos, houve nova subida das taxas de juro, o que tem afectado vários mercados, o dos catálogos incluído.
Será que, havendo uma descida da inflação, os catálogos voltarão a estar na base de negócios exorbitantes? É difícil dizer. Mais fácil é falar do possível impacto das aquisições nas carreiras de artistas que ainda não têm o mesmo nível de conforto financeiro e estão à procura de um lugar na indústria.
David Turner considera que a questão dos catálogos não é relevante para músicos ainda numa fase embrionária do seu percurso. “As editoras não estão interessadas em tornar-se meras servidoras de catálogos. Estarão sempre à procura de talento emergente”, diz, referindo que os reais lesados poderão vir a ser aqueles que, tendo já alguma reputação, ainda não são imensamente populares.
“Há artistas que já dão concertos para 1000 pessoas e talvez progrediriam se uma das suas músicas fosse usada numa série ou num anúncio”, nota. “Mas as marcas estão a ser sondadas por representantes do catálogo do Bob Dylan (por exemplo), que dizem: ‘Olhem, acho que seria fixe se gastassem dinheiro nesta música do Dylan. Sim, é capaz de ser mais cara, mas o que preferem? Ter no vosso anúncio uma canção do Dylan ou uma música de um tipo aleatório que ninguém conhece?’”
Em 1999, a Volkswagen usou numa publicidade a canção Pink Moon, de Nick Drake. Até então, o músico britânico, que viveu uma vida de anonimato e morreu em 1974, aos 26 anos, era relativamente desconhecido. Mas o anúncio multiplicaria o interesse nesse que hoje é um dos grandes nomes da música folk.
No fundo, David Turner diz que é improvável ocorrer hoje o que ocorreu em 1999. No entanto, Chi Chi Nwakodo, que trabalha na Sony Music Publishing – é responsável por negociar com clientes licenças de sincronização para a obra dos artistas ligados à Sony Music ser usada em anúncios, séries, trailers e videojogos -, sustenta que há algumas oportunidades para quem ainda está a iniciar o seu percurso. “Provavelmente trailers de blockbusters ou grandes campanhas publicitárias estejam fora do seu alcance, mas há marcas, como a Nike e a Adidas, que estão sempre à procura de música nova”, diz, referindo que essas duas empresas têm pouco interesse em usar canções antigas. “Querem pessoas que sejam cool e cuja música corresponda à imagem a que desejam associar os seus produtos.”
Chi Chi afirma que também há possibilidades para músicos emergentes no “mercado da PlayStation”. “O FIFA e o GTA, que são dois jogos em que a música assume um papel importante, não são spots publicitários. Não precisam de apenas 60 segundos de uma única canção. Precisam de centenas de horas de música.”
Diversos estúdios de cinema têm, ultimamente, usado covers de músicas conhecidas em trailers. Quem viu, por exemplo, o trailer de Viúva Negra, longa-metragem estreada em 2021, ouviu a artista Malia J a cantar uma versão lenta, dramática e orquestral de Smells Like Teen Spirit. O clássico dos Nirvana não foi o único tema de Kurt Cobain a ser retrabalhado recentemente. O trailer de Batman (2022), outro filme de super-heróis, teve como banda sonora uma versão épica de Something in the Way.
“Para alguém em início de carreira, gravar uma versão de uma música conhecida pode abrir portas”, assinala Chi Chi Nwakodo, que dá o exemplo de Grace Carter, cantora de 25 anos que, em 2019, lançou uma versão de Wicked Game, clássico de 1989. A canção de Chris Isaak foi alvo de uma ligeira modernização pela britânica, cuja versão tocaria num episódio de Love Island, reality show popular no Reino Unido. “Isso mudou a trajectória dela.”
O TikTok pode abrir portas, mas não é para todos
Explorar o TikTok também pode ser uma opção para artistas emergentes. Lil Nas X, cuja música vai do hip-hop à country, passou de desconhecido a estrela porque conseguiu fazer de Old Town Road um fenómeno viral nessa aplicação. A canção fez tanto sucesso que o jovem americano deixou a indústria a salivar. Juntar-se-ia à Columbia Records, que lançou Montero (2021), o primeiro álbum do músico.
Também pode ser dado o exemplo de PinkPantheress, que faz músicas curtas e nostálgicas em que o drum and bass e a hyperpop se cruzam. A jovem britânica começou por colocar as suas canções no SoundCloud, mas passaria para o TikTok no fim de 2020 e, em poucos meses, ganharia uma base de fãs considerável. A Parlophone estava atenta e “pescou” a inglesa, que através dessa editora já lançou a mixtape To Hell With It (2021).
O que é que sucede? Nem todos estão interessados em fazer covers dos Nirvana. E o TikTok não é bondoso para toda a gente. Estas “estratégias” para ganhar visibilidade só interessarão a artistas emergentes que desejem estar no corredor mais mainstream da produção musical (o que é legítimo, diga-se). “O TikTok não é o melhor sítio para alguém promover a sua composição electroacústica de dez minutos”, aponta Cat Zhang, editora na Pitchfork.

Esta “TikTokificação” da música, além de não apelar a músicos que, nas palavras de Cat Zhang, não querem “comprometer a [sua] integridade artística”, está a ter outros efeitos negativos. “Viralizar no TikTok tornou-se uma coisa tão comum que o sucesso que isso produz já não é tão grande.”
“Ajudar” bandas pequenas deve ser uma preocupação para os grandes festivais?
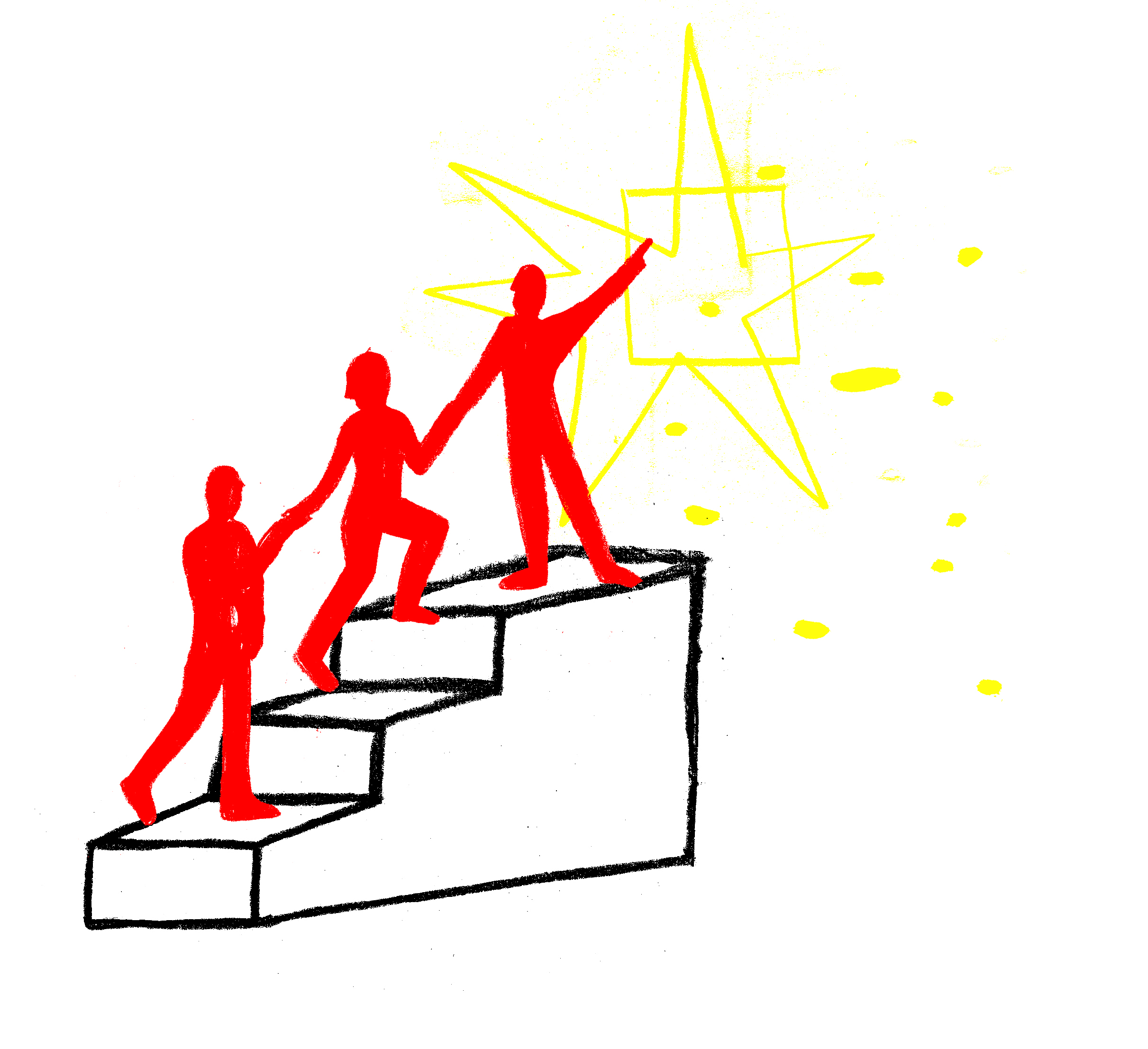
Cat Zhang fala de homogeneidade no TikTok e Aïda Camprubí, conhecedora da cena underground espanhola e co-directora do BAM, festival em Barcelona com financiamento público, fala de homogeneidade na maioria dos festivais europeus de grande escala, que “vão todos atrás” dos mesmos nomes de topo. Estes festivais poderiam ser boas montras para artistas que ainda estão a começar, mas, muitas vezes, têm um impacto meramente residual nas suas carreiras, defende a também programadora do Primavera Pro – que está inserido no Primavera Sound de Barcelona e é descrito como sendo uma “reunião internacional” que junta vários profissionais da indústria da música.
“Irrita-me que alguns festivais tenham palcos dedicados exclusivamente a bandas locais. É como se elas estivessem a ser segregadas”, diz Aïda Camprubí, argumentando que, quando as bandas locais são “separadas do resto”, torna-se improvável elas tocarem para uma plateia numerosa, independentemente do facto de estarem num festival grande. As atenções estarão sobretudo centradas nos palcos principais.
“Alguns festivais não têm cabeças-de-cartaz. É dado igual destaque a cada um dos artistas. Acho isso muito interessante”, refere Aïda, dizendo que o BAM segue esse modelo. Esse festival também gosta de promover encontros entre bandas com filosofias similares. No ano passado, foi programado um concerto que colocou no mesmo palco duas bandas de synth-punk com diferentes níveis de visibilidade: os La Élite, duo catalão que com os anos começa a ganhar algum protagonismo, e os mais lo-fi e menos escutados Sin Bragas.
“Eles não se conheciam antes de os termos desafiado a fazer um espectáculo em conjunto. Não só os músicos tiveram a possibilidade de ficar amigos, como os Sin Bragas puderam, no dia do concerto, ser expostos a um público maior”, reflecte a co-directora do BAM, lamentando que, na sua óptica, os grandes festivais façam pouco para “ajudar” bandas pequenas.
Pau Cristòful, programador do Primavera Sound de Barcelona, concorda com Aïda quando esta diz que, por irem atrás dos mesmos nomes de alto calibre, todos os grandes festivais europeus acabam por ser algo homogéneos. Mas acredita que, no caso do Primavera, há um equilíbrio entre o mainstream e apostas mais obscuras. “Temos um público cuja curiosidade musical é grande. Tanto recebemos pessoas que só vão ao festival para ver os cabeças-de-cartaz como pessoas que evitam totalmente os palcos principais.”
“Tem tudo a ver com uma questão de equilíbrio: o Primavera não seria possível se só tivéssemos os artistas hyped, assim como não seria possível se só tivéssemos bandas obscuras”, comenta Pau Cristòful, referindo que, embore ache interessante a ideia de um festival não ter cabeças-de-cartaz, é “completamente impossível” um festival como o Primavera, que “lida com os artistas com quem lida”, implementar esse modelo.
O programador acrescenta: “A Aïda, de quem sou muito amigo, trabalha para um festival público. Faz sentido que um festival público tenha certas obrigações [no que diz respeito a programar bandas locais]. O Primavera é privado. Pode, em teoria, fazer aquilo que lhe apetecer. Agora… É óbvio que não gostaria de trabalhar para um festival que pensa só no lucro e despreza por completo música que, comercialmente, possa não ser tão rentável. Há festivais que parecem meramente negócios. O Primavera ainda é um festival cujas pessoas querem saber da música.”
Portugal: entre o espírito colaborativo e a falta de agenciamento
Por cá, o espírito de entreajuda continua a ser vital para singrar na indústria. Julinho KSD, que deu nas vistas como artista independente e agora está ligado à Sony Music – que lançou o seu primeiro disco, Sabi na Sabura (2021) -, tem trabalhado, tanto em nome próprio como com o seu colectivo (chamado Dirty Doc), com nomes como Bispo, Chyna, Landim, Slow J e Valas. “Sinto que eu e mais alguns da nova geração estamos a criar um movimento de mais união entre artistas. Não é que não consigamos progredir na carreira [sozinhos], mas unidos somos sempre mais fortes”, diz.
Os frutos do trabalho em equipa também são visíveis no sector da música ao vivo. Ricardo Pimentel, da associação Grémio Caldense, que faz programação cultural em alguns espaços não-comerciais das Caldas da Rainha, observa que, no universo do jazz exploratório português, os músicos não só saltitam entre projectos, esboçando colaborações variadas, como “contactam de forma independente as salas de concertos”, propondo que estas os programem. Cria-se, entre salas, “uma rede informal que acaba por existir mais por causa dos artistas do que por causa das estruturas em si”, aponta.
A artista indie Marinho também diz que o facto de manter uma boa relação com diferentes artistas com quem partilha a mesma visão criativa e os mesmos valores é vital. Mas diagnostica alguns problemas que travam a progressão de muitos artistas emergentes em Portugal. Um dos principais tem a ver com a falta de agenciamento. “O management ainda não dá muito dinheiro em Portugal, pelo que esse sector está subdesenvolvido. Imagine-se que um agente fica com 10 a 20% do lucro de um artista. Se um artista tem de fazer outras coisas para pagar a renda, como é que um manager vai viver disso?”, explica.
Marinho diz que, em Portugal, alguém que queira viver da música e ser independente tem de ter “um mindset de empreendedorismo”, pensando em estratégias, digitais e não só, para promover o seu trabalho eficazmente. “Há pessoas que não têm jeito para isso. E há pessoas que não querem viver a sua vida dessa maneira, o que respeito e entendo. O cérebro humano não foi feito para pensar ‘mas quantos Reels é que tenho de fazer por semana para a minha música chegar a mais gente?’”
A artista, que tem um disco, ~ (lê-se “til”), lançado em 2019 pela editora independente Street Mission, é da opinião de que muitas editoras pequenas em Portugal não têm esse mindset de empreendedorismo, e, portanto, “não conseguem fazer tanto para catapultar um artista”. Marinho refere que teve de pensar na promoção do seu álbum praticamente sozinha. “O que vale é que até gosto deste lado do marketing.”
Como freelancer, Marinho é “consultora para artistas que não têm editoras”, ajudando-os a fazer “as suas estratégias de marketing ou streaming”. A lisboeta trabalhou, por exemplo, com a banda Minta & the Brook Trout. “Uma das nossas vitórias foi termos conseguido ser capa da Indie Lusitano, que em Portugal é uma das playlists mais conhecidas do Spotify. Esse tipo de lugares costuma estar reservado para pessoas ligadas a majors.”
É o dilema de muitos artistas, em Portugal e no estrangeiro. Marinho não tem de estar preocupada com o boom das aquisições de catálogos musicais (para a compositora, os desafios são outros), mas há artistas que, tendo já subido alguns degraus na escadaria da indústria, permanecem com esse dilema nas mãos, já que a sua situação financeira permanece instável. Uma última incursão pelas palavras de David Turner: “Para bandas ou artistas que já são ligeiramente maiores, este boom pode roubar potenciais fontes de rendimento, transformando o que poderia ser uma curva ascendente numa linha que, a dada altura, estagna”, considera o jornalista. “Isso pode levar a que, com o tempo, algumas bandas deixem de investir na sua música e desapareçam um pouco do radar. Não têm como fazer aquela transição de ‘música enquanto hobby exigente’ para ‘música enquanto emprego’.”
English Version
Millions are being invested in the music of the past. Where does that leave emerging artists?
July 2021. For about 200 million dollars, Bob Dylan sells his entire catalog of recorded music along with the rights to several new releases to Sony Music Entertainment. The work of a lifetime spanning over six decades. December 2021. This time, the American conglomerate buys the entire music catalog of Bruce Springsteen’s songs for about 500 million dollars. January 2022. Warner Chappell Music invests 250 million dollars in the acquisition of David Bowie’s song catalog.
We could go on.
This is a new trend in the music industry. Huge conglomerates – which own several record labels –, private-equity firms and investment funds spent considerable sums of money to acquire the entire music catalogues of artists with long and successful careers (mainly, but not only). Dylan, Springsteen and Bowie are just three, among others, such as Neil Young, Paul Simon, Tina Turner, Whitney Houston, Stevie Nicks, or the band Blondie. Artists and bands that are not as long-established, and whose catalogues have also been acquired recently, include Shakira, David Guetta and the Imagine Dragons.
For the acquirer, the benefits are obvious. It is interesting to own the rights to the catalog of someone like Bob Dylan, because every time one of his songs appears in films, television shows or commercials, it generates royalty income. The artists’ motivations seem obvious as well: they hand over the intellectual property rights to their songs, while cashing in millions of dollars. Many of these artists are musicians with lengthy careers, so these could be the last big cheque payments of their lives – mainly after the pandemic has weakened the live music sector; and overall, in an era when records sell poorly and streaming doesn’t pay much.
Of course, catalog acquisition is nothing new. One of the most famous acquisitions dates to 1985, when Michael Jackson following the advice of his then-friend Paul McCartney – who had encouraged the author of Thriller to invest in music publishing rights – bought the Beatles’ catalogue for 47 million dollars. A decade later, the Fab Four’s songs would sell for twice that amount.
Catalogue acquisition did not start yesterday, we’d say. But there is now an unprecedented boom in the catalogue market, which reached its peak in 2021. Where did that boom come from? And how does it affect artists who are still trying to find their place in a saturated market?
Labels will always look for new talent, but some roads are rockier than others
The American journalist David Turner, who writes about the music industry in the noteworthy newsletter Penny Fractions, explains that, in the United States, the Great Recession – the economic collapse of the late 2000s – opened for this boom. The crisis has led the Federal Reserve System – the central bank of the US – to lower interest rates, which has benefited investors (when interest rates fall, borrowing becomes cheaper).
According to the journalist, the purchase in 2009 of both Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II catalogues – the American duo who created a series of influential musicals in the 1940s and 1950s – was remarkable enough to help spark the curiosity in music catalogues. An interest that has intensified during the 2010s to finally boom in the insane year of 2021. But it’s possible that now the fever pitch is cooling down. The inflation on the rise in the United States has prompted another increase in interest rates, which has affected several markets, including the music catalogue market.
If inflation starts declining, will the catalogue market return to exorbitant deals? It’s hard to say. It is much more straightforward to talk about the impact of acquisitions on the careers of artists who haven’t reached the same level of financial comfort, and are still looking for a place in the industry.
David Turner feels that the issue of catalogues is not relevant to musicians in the early stages of their careers. “Labels are not interested in becoming mere catalogue servers. They will always look for new talent,” he says, noting that those who got some recognition but are still not very popular as artists might be the most damaged.
“There are artists who already give concerts to 1,000 people and most likely they would advance if one of their songs appeared in a television show or commercial,” he notes. “But Bob Dylan catalogue reps, for example, are approaching brands, saying, ‘Look, I think it would be cool if you spent money on this Dylan song. Yes, it might be more expensive, but what would you prefer? Having a Dylan song in your commercial or a song by some random guy that nobody knows?'”
In 1999, Volkswagen used Nick Drake’s Pink Moon in a commercial. Until then, the British musician, who lived a life of anonymity and died in 1974 at 26, was relatively unknown. But the Volkswagen ad ended up magnifying the interest in one of today’s indisputable great folk music artists.
Basically, David Turner says what happened in 1999 is unlikely to happen today. However, Chi Chi Nwakodo, a Senior Sync Executive at Sony Music Publishing, disagreed. Working with clients to negotiate sync licenses for music placements on tv commercials and series, film trailers and video games, she argues that there are some opportunities for those still starting out. “Probably blockbuster’s trailers or big ad campaigns are out of their reach, but there are brands, like Nike and Adidas, that are always looking for new music,” she says, noting that both companies have little interest in using old songs. “They want cool people whose music matches the image they want to associate with their products.”
Chi Chi says there are also opportunities for emerging musicians in the “PlayStation market.” “Music plays an important role in both FIFA and GTA games. These are not advertising spots. They don’t need just 60 seconds of a song. They need hundreds of hours of music.”
Lately, several movie studios have been using cover versions of popular songs in trailers. Those who saw, for example, the trailer for Black Widow, a feature film premiered in 2021, remember the slow, dramatic and orchestral version of Nirvana’s classic Smells Like Teen Spirit, delivered by artist Malia J. This wasn’t the only interpretation of Kurt Cobain’s songs recently. An epic version of Something in the Way soundtracked the trailer for Batman, another superhero movie, released in 2022.
“For someone starting their career, recording a version of a popular song can open doors,” points out Chi Chi Nwakodo, who gives the example of Grace Carter, a 25-year-old singer who, in 2019, released a cover of Chris Isaak’s classic Wicked Game, originally released in 1989. The British singer delivered a modern version of the song, which appeared on an episode of Love Island, a popular reality show in the UK. “That was a turning point in her career.”
TikTok can open doors, but it’s not for everyone
Exploring TikTok can also be an option for emerging artists. Lil Nas X, whose music ranges from hip-hop to country, went from unknown to star because he turned Old Town Road into a viral phenomenon on the app. The song was such a success that the young American left the industry drooling. He would join Columbia Records, which released Montero (2021), the musician’s first album.
Another example of the power of the platform is PinkPantheress, who combines drum and bass and hyper-pop to create short, nostalgic songs. The young Brit started by posting her songs on SoundCloud, and after moving on to TikTok at the end of 2020, she gained a considerable fan base within a few months. Parlophone took notice and “fished” the British singer, who has already released the mixtape To Hell With It (2021).
What happens? Not everyone is interested in doing Nirvana covers. And TikTok is not kind to everyone. These “strategies” to gain visibility will only interest emerging artists who want to be in the more mainstream corridor of music production (which is legitimate, by the way). “TikTok is not the best place for someone to promote their ten-minute electroacoustic composition,” points out Cat Zhang, editor at Pitchfork.

This “TikTokification” of music, apart from not appealing to musicians who, in Cat Zhang’s words, don’t want to “compromise [their] artistic integrity,” is having other negative effects. “Viralising on TikTok has become such a common thing that the success it produces is no longer that great.”
Should “helping” small bands be a concern for big festivals?
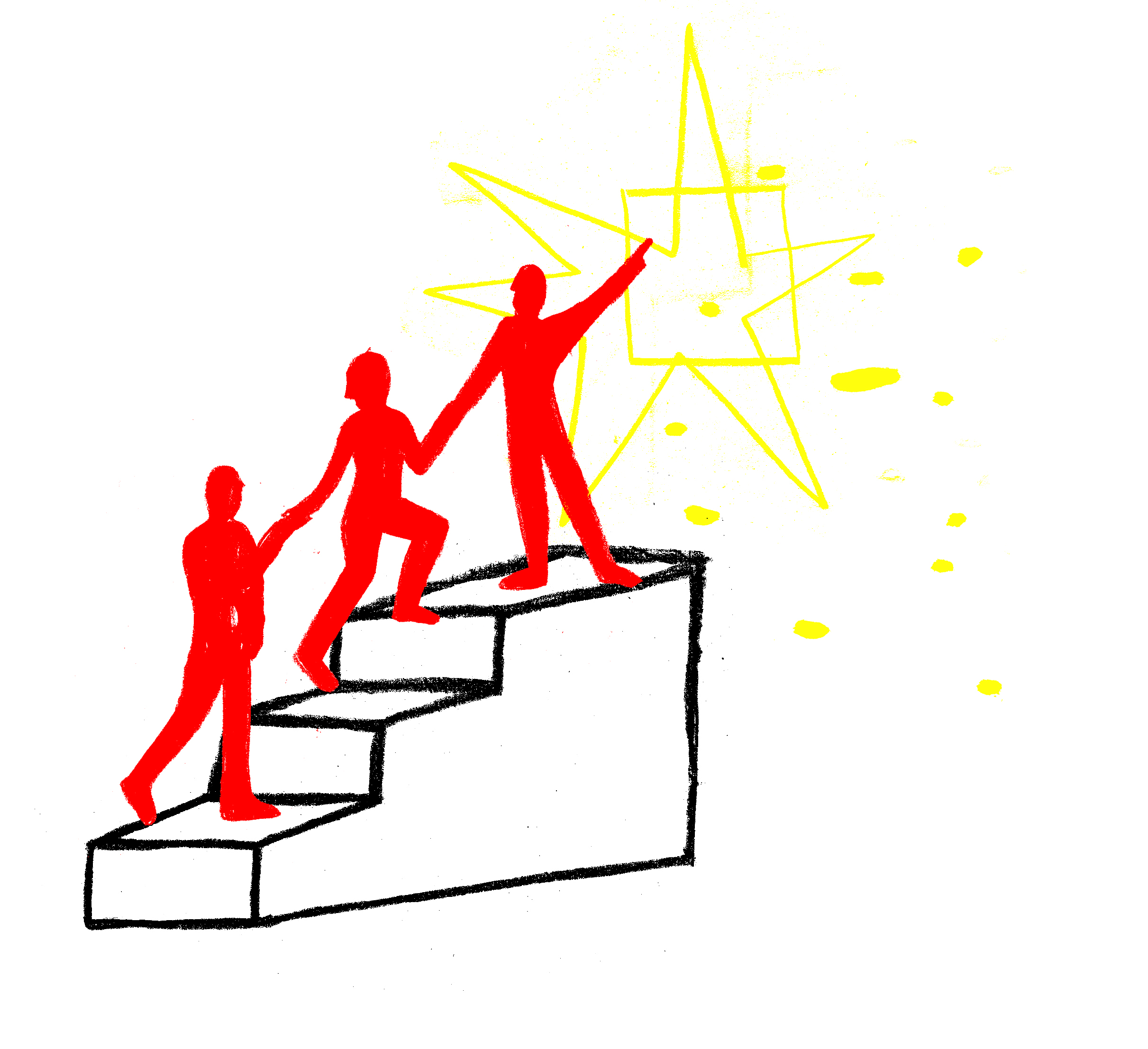
Cat Zhang speaks of homogeneity at TikTok and Aïda Camprubí, an expert on the Spanish underground scene and co-director of BAM, a publicly funded festival in Barcelona, speaks of homogeneity in most large-scale European festivals, which “all go after” the same superstar acts. These festivals could be good showcases for up-and-coming artists, but often have a residual impact on their careers, argues the cultural programmer of Primavera Pro – which is an “international gathering” that brings together various music industry professionals and is a part of Barcelona’s Primavera Sound.
“It annoys me that some festivals have stages for local bands only. It’s like they are being segregated,” says Aïda Camprubí, arguing that when local bands are “separated from the rest” they are unlikely to play to a large audience, regardless of whether they are at a big festival. All attentions will focus on the main stages.
“Some festivals don’t have headliners. Each artist has equal weight on the billing. I find that very interesting,” says Aïda, saying that BAM follows that model. This festival also likes to promote meetings between bands with similar philosophies. Last year, one of the festival’s concerts brought to the same stage two synth-punk bands with different levels of visibility: La Élite, a Catalan duo that over the years has gained some relevance, and the lo-fi and less-known Sin Bragas.
“They didn’t know each other before we challenged them to do a show together. Not only did the musicians have the chance to become friends, but Sin Bragas had the opportunity to be exposed to a larger public on the day of the concert,” reflects the co-director of BAM, regretting that, in her view, the big festivals do little to “support” small bands.
Pau Cristòful, a booking agent for Primavera Sound in Barcelona, agrees with Aïda when she says that, because they go after the same high-calibre names, all the big European festivals end up being somewhat homogenous. But he believes that with Primavera, there is a balance between mainstream and underground artists. “Our audience’s musical curiosity is great. There are both people who go to the festival only to see the headliners and people who avoid the main stages altogether.”
“It’s all about balance: Primavera wouldn’t be possible if we only had the hyped artists, just as it wouldn’t be possible if we only had obscure bands,” comments Pau Cristòful, stating that, although he finds the idea of a festival not having headliners interesting, it is “impossible” for a festival like Primavera to implement this model, giving “the artists it deals with.”
The booking agent adds: “Aïda, who I am good friends with, works for a public festival. It makes sense that a public festival has certain obligations [to book local bands]. Primavera is private. It can, in theory, do whatever it feels like. Now… Clearly, I wouldn’t want to work for a festival that thinks only about profit and completely despises music that, commercially, might not be so profitable. There are festivals that seem merely business-like. Primavera is still a festival where people care about music.”
Portugal: between collaborative spirit and lack of agency
Here, the spirit of mutual help continues to be vital to succeed in the industry. Julinho KSD, who was noticed as an independent artist and is now linked to Sony Music – which has released his first album, Sabi na Sabura (2021) – has been working both under his own name and with his collective Dirty Doc, with names like Bishop, Chyna, Landim, Slow J and Valas. “I feel like myself and a few others of the new generation are creating a movement of more unity between artists. It’s not that we can’t advance our careers [alone], but united we’re always stronger,” he says.
The benefits of teamwork are also clear in the live music sector. Ricardo Pimentel, from the organisation Grémio Caldense, which carries out cultural programming in some non-commercial spaces in Caldas da Rainha, observes that, in the universe of Portuguese exploratory jazz, musicians not only jump between projects, drafting several collaborations but also “have the initiative to contact concert halls” to get booked for gigs. So, there is “an informal network [between venues], which ends up existing more because of the artists than because of the structures themselves,” he points out.
Indie artist Marinho also says that having a good relationship with other artists with whom she shares the same creative vision and values is vital. But she identifies some problems that hinder the breakthrough of many emerging artists in Portugal. One major obstacle is the lack of artist management. “Management still doesn’t make much money in Portugal – so this sector is underdeveloped. Imagine that an artist manager gets 10 to 20% of the artist’s profit. If the artist needs to do other jobs to pay the rent, how is the manager going to live off that?”, she explains.
Marinho says that in Portugal, someone who wants to make a living from music and be independent must have “an entrepreneurial mindset,” thinking of strategies, digital and otherwise, to promote their work effectively. “There are people who are not good at it. And there are people who don’t want to live their life that way, which I respect and understand. The human brain is not built to think ‘but how many Reels do I have to do every week for my music to reach more people?'”
The artist, who has released the album ~ (read “til”) in 2019 through the independent label Street Mission, believes that many small labels in Portugal don’t have that entrepreneurial mindset, and therefore “can’t do much to promote an artist”. Marinho adds she had to think about how to promote her album on her own. “The good thing is that I actually like the marketing side of it.”
As a freelancer, Marinho is a “consultant for artists that don’t have labels,” helping them to design “their marketing or streaming strategies.” The artist from Lisbon has worked, for example, with the band Minta & the Brook Trout. “One of our accomplishments was to be on the cover of Indie Lusitano, which in Portugal is one of the most popular playlists on Spotify. Those kinds of spots are usually for people associated with majors.”
This is the dilemma of many artists, in Portugal and abroad. Marinho doesn’t have to worry about the music catalogue acquisition boom (for the songwriter, the challenges are different), but for artists who have already moved a few rungs up the industry ladder, this dilemma remains, as their financial situation remains unstable. A final foray into David Turner’s words: “For bands or artists who are already slightly bigger, this boom can rob potential sources of income, turning what could be an upward curve into a line that at some point stagnates,” the journalist reckons. “Over time, that can lead some bands to stop investing in their music and disappear a bit off the radar. They can’t make that transition from ‘music as a demanding hobby’ to ‘music as a job’.”