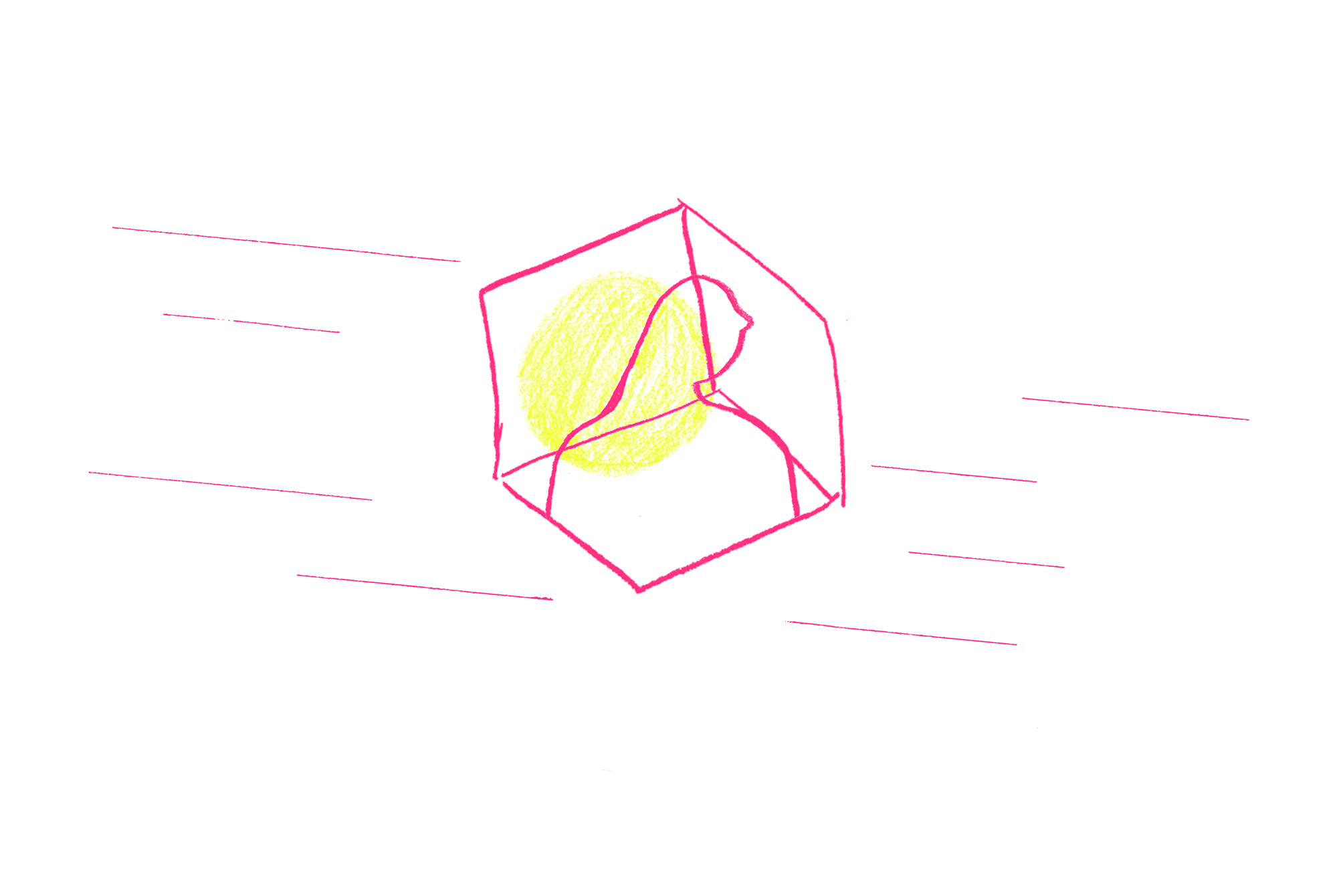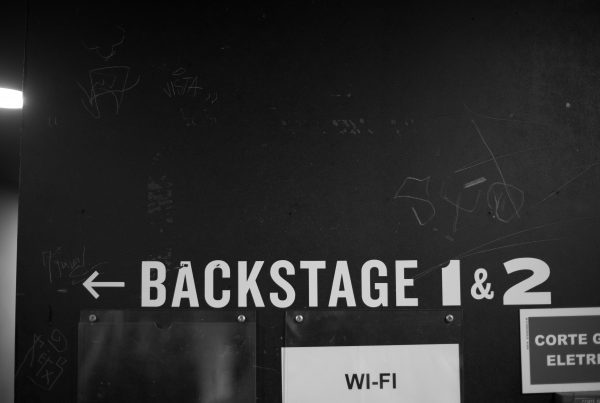“O software permitiu, nas últimas décadas, uma explosão maravilhosa na produção artística de todo o tipo. Hoje é quase imprescindível para muitíssimas disciplinas: de um processador de texto a um editor de vídeo, de um programa de manipulação de imagens a ambientes de programação para artes em novos meios. Esse software é, na maioria das vezes, propriedade de empresas multinacionais. Custa enormes somas de dinheiro e não sabemos como é feito. Isto implica uma barreira económica e epistemológica.”
Estas palavras de Jorge Gemetto, co-director do Ártica – Centro Cultural Online, sediado na América Latina, resumem a inevitabilidade tecnológica dos nossos dias. Se é certo que o avanço galopante desta área se tem traduzido na democratização do consumo e da produção culturais, por cada camada adicional de benefícios e de complexidade acresce uma outra, sub-reptícia, no modo como cada novidade tecnológica se apresenta e se instala no nosso quotidiano.
Para Cairo Braga*, artiste musical e audiovisual brasileire a residir em Portugal, a revolução tecnológica foi também uma revolução na sua vida. “Só faço música, rádio e trabalho audiovisual de maneira autodidacta, desde os 12 anos, graças aos meios tecnológicos a que tive acesso. A tecnologia não é apenas uma ferramenta de liberdade mas também um meio de expansão de mundos”, diz o artiste, que produz e edita música a título independente há mais de uma década, tendo sido o fundador da editora digital Elegant Elephant, entretanto desactivada.
Passados quase vinte anos desde o início do seu enamoramento pela produção musical, mantém uma relação íntima com as máquinas. No entanto, actualmente valoriza mais a tecnologia livre e descentralizada, detalhando que as encara “como o mais perto que já chegámos de uma aplicação de conceitos anarquistas, comunistas, socialistas e colectivistas na internet enquanto (super)estrutura e não apenas como meio, que é sempre o foco do discurso da grande imprensa e dos media quando o assunto é a rede mundial de computadores”, considera. “Isso acontece porque se as pessoas forem incentivadas a pensar na web como uma (super)estrutura, o poder dos media corporativos dominantes entra em cheque e em choque.”
Dos dispositivos que usamos aos serviços essenciais, esta ideia de “superestrutura” reflecte-se no facto de a maior parte do que acontece na web estar nas mãos de pouco mais de uma dúzia de empresas, todas elas megacorporações com volumes de negócio maiores do que o PIB de muitos países – gigantes como a Google e a Microsoft atingiram lucros históricos no segundo trimestre deste ano, 62 mil milhões de dólares e 46,2 mil milhões de dólares respectivamente. O progresso desenha-se com assistentes virtuais que comunicam como se fossem pessoas, com electrodomésticos ligados à internet 24 horas por dia, com a possibilidade de controlar quase tudo à distância.
Contudo, o reverso da moeda é a recolha permanente dos nossos dados. Ou seja, a vigilância permanente. Somos seguidos (e moldados) a cada instante: nas redes sociais, nos sites que visitamos, nas conversas que temos (não é por acaso que nos aparece no telemóvel publicidade ou outro tipo de conteúdo relativos a assuntos sobre os quais estivemos a falar nessa mesma hora), no simples acto de termos o smartphone ligado quando saímos de casa. “Enquanto no mundo físico há limites, inclusive espaciais, para as arquitecturas de persuasão, digitalmente elas podem ser construídas em escalas gigantescas”, escreveu Amanda Chevtchouk Jurno no artigo Plataformas, algoritmos e moldagem de interesses publicado na revista brasileira Margem Esquerda (ed. Boitempo).
“Quantos mais dados a plataforma colectar, melhor vai compreender os comportamentos dos usuários e poderá gerar previsões e modelos mais acurados”, sintetizou a jornalista e investigadora, aludindo àquilo a que se chama de “dataísmo”, conceito forjado pela professora holandesa José van Dijck. No fundo, “os dados pessoais são o novo petróleo da internet e a nova moeda do mundo digital”, como disse certeiramente a política búlgara Meglena Kuneva, à época comissária de Defesa do Consumidor da União Europeia.
A existência digital exige, portanto, uma negociação permanente entre o direito à privacidade e o nosso quotidiano, já que a rotina diária da maioria das pessoas se desenrola, inevitavelmente, numa sociedade em rede. Essa rede, que começou aberta, é hoje um silo de bolhas e jardins que se tocam cada vez menos, reforçando preconceitos e estreitando visões do mundo, excluindo quem não se consegue conectar – seja por incapacidade financeira ou logística, seja por impossibilidade de aprendizagem ou falta de acessibilidade técnica.
O capitalismo transformou-nos em minúsculas rodas dentadas que nunca param de girar, cedendo informação infinita a máquinas que determinam padrões no meio do caos aparente e reorganizam o mundo à nossa volta. Apesar de bem oleado, o sistema é opaco. Quem está de fora não sabe em que direcção gira a engrenagem nem quem a faz girar, nem onde estão as máquinas nem quem as governa.
O vidro fosco que nos separa da tecnologia esconde incontáveis ataques aos direitos digitais de cada um. Eduardo Santos, presidente da D3 – Defesa dos Direitos Digitais, uma associação portuguesa sem fins lucrativos, assinala que os “direitos digitais são direitos humanos”.
“É uma categoria recente, que ganha alguma autonomia pela especificidade das questões que coloca, mas os direitos em causa são os mesmos”, observa. “Em algumas áreas até parece existir um retrocesso, sendo o caso mais evidente o da privacidade – um direito que não é contestado em relação à nossa vida offline, mas que está muito longe de ser garantido no que toca à internet”. A D3 tem trabalhado afincadamente na promoção de alternativas que não comprometam os direitos humanos no plano digital, tanto em tomadas de posição públicas como enquanto representantes da sociedade civil nos trabalhos legislativos, em contexto português e europeu, que impliquem este tipo de questões.
Neste campo do activismo político em torno dos direitos digitais, importa também mencionar o Brasil, onde se tem notado uma consolidação nesse sentido de organizações da sociedade civil e da academia, muitas delas congregadas no colectivo Coalizão Direitos na Rede. Com base na Índia, mas com alcance global, há a Just Net Coalition, que reúne sindicatos e outras organizações dedicadas aos direitos digitais e cujo trabalho passa também por tópicos como a soberania alimentar, a justiça ambiental e o feminismo.
Ainda antes de a internet ter uma World Wide Web, já a resistência ecoava por comunidades hackers ligadas à academia, infiltrando-se lenta mas vigorosamente pelas fileiras empresariais. Em 1984, Richard M. Stallman publica o manifesto do software livre, dando início a um movimento de mudança que ainda hoje está a ser construído. Nesse texto, o activista, programador e hacker americano defende que o software deve garantir quatro liberdades a quem o utiliza: a de executar o programa, a de estudar o código, a de melhorá-lo e a de redistribuir esse produto melhorado. Na altura, empresas como a Google ou a Amazon ainda nem sequer estavam no horizonte. A maior preocupação do então investigador do MIT era o entrincheiramento do software no hardware desenvolvido pelas fabricantes de computadores, mas a ideologia da liberdade do utilizador face às imposições da indústria perdurou.
Com o passar dos anos, o movimento do software livre evoluiu e, actualmente, a sua ramificação mais conhecida é o open source (código aberto). As implicações ideológicas de um e de outro são ligeiramente diferentes – na prática, todo o software livre é de código aberto, embora o contrário nem sempre seja verdade. É a abertura do código-fonte – o código informático que, de facto, é um determinado software – que garante, por um lado, que o software possa ser devidamente auditado, verificando-se se cumpre aquilo a que se propõe de forma segura, e, por outro, melhorado, num processo de colaboração contínua entre quem assim o desejar. A internet fez com que a ideia de abertura se alastrasse a outras áreas, como a ciência, a educação ou a cultura.
“A cultura livre é um conjunto de práticas e é também um movimento social e cultural que põe ênfase no direito à participação cultural na internet, o direito de partilhar cultura, de remisturar obras artísticas, adaptá-las, parodiá-las, criticá-las, recriá-las, torná-las comuns”, esclarece Jorge Gemetto. “Este movimento critica a propriedade intelectual e denuncia-a como um obstáculo para a liberdade artística. Não há cultura livre se houver propriedade sobre a cultura. E não há uma sociedade livre sem cultura livre.”
Assim, em todos os seus desdobramentos, a liberdade expressa-se na partilha legal e na possibilidade de adaptação. Em 2001, o salto tornou-se oficial, de certa forma, graças à criação das licenças Creative Commons, que vieram também mostrar um dos possíveis caminhos para tornar o digital um meio mais comunitário e horizontal.
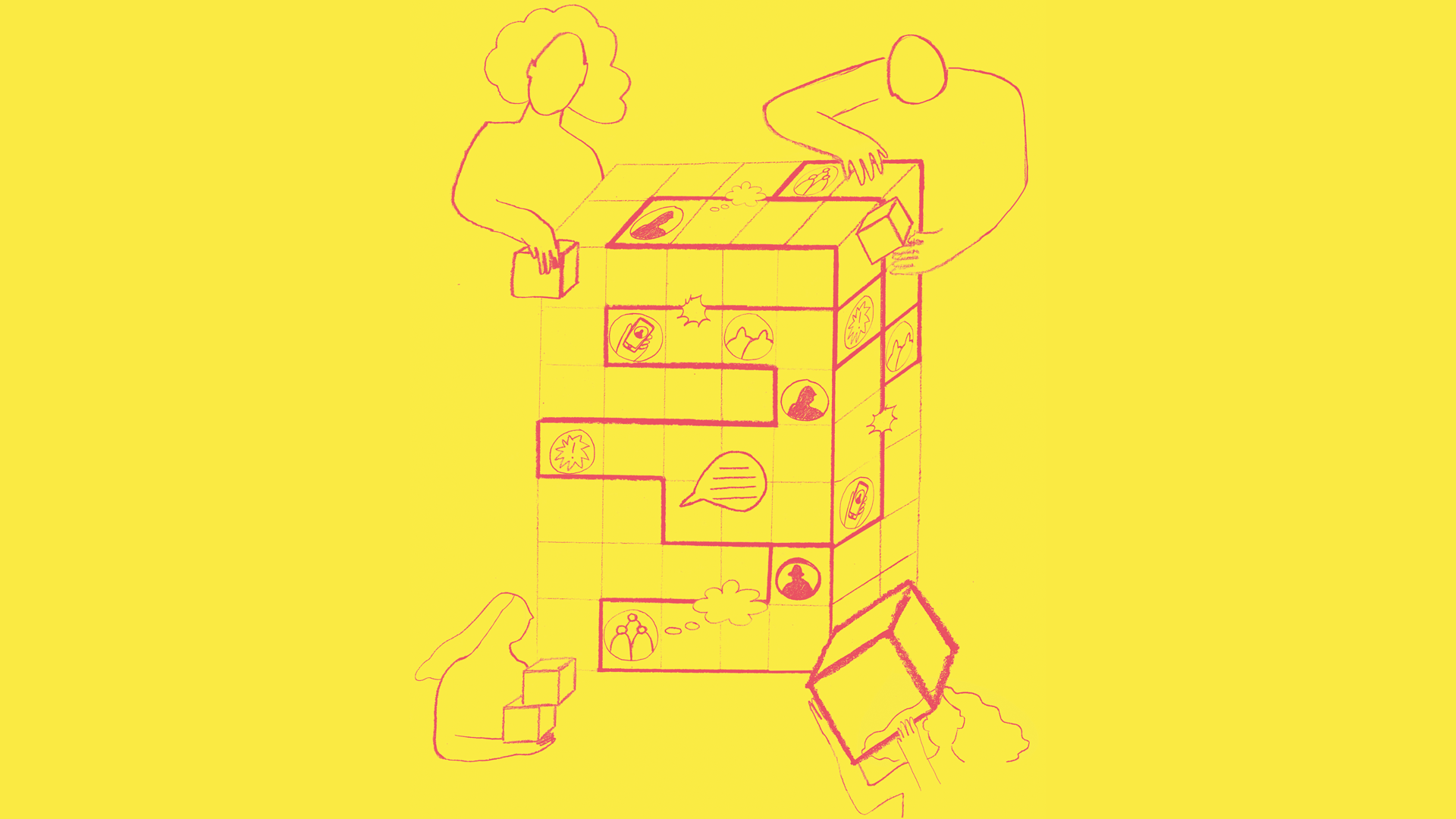
Ilustração por Angelina Velosa
A força da palavra comunidade impôs-se desde o início nos caminhos enredados pelo avanço das comunicações. E, durante algum tempo, era sobre ela que recaía a esperança da internet enquanto espaço de democratização de oportunidades. Sem intermediários, o mundo podia ser a ostra de todos os criativos, que chegaram e impuseram-se em vagas sucessivas, dos blogues às redes sociais. Pelo caminho, outras tecnologias aliciavam o debate e a participação: fóruns, mailing lists e salas de chat onde se discutiam interesses, paixões e se projectavam alternativas a um sistema que claramente não servia para todos. A criação e partilha de conhecimento e recursos comuns tornaram-se o pilar destes ajuntamentos. A experiência de Cairo Braga na comunidade netlabel é, nesse sentido, paradigmática. “É uma comunidade que ensina. Foi lendo e acompanhando as netlabels que eu aprendi como começar uma e foi essa comunidade que me acolheu e ofereceu um mundo novo de cultura livre, descentralizada, onde há espaço para todas”, afirma. “Eu espero que dure para sempre, pois a comunidade das netlabels profetizou a digitalização total e irrestrita da música que vivemos hoje.”
Unidos por uma língua comum, o espanhol, o movimento da cultura livre ibero-americano assume contornos e uma relevância transnacionais. Organizações como a Nodo Común ou o Colectivo Disonancia rejeitam categorizações limitadas apenas a um país e operam como comunidades virtuais deslocalizadas, divulgando e promovendo ferramentas tecnológicas livres, éticas e seguras, com uma variedade de recursos online, incluindo documentação técnica para iniciantes. No já referido Ártica – Centro Cultural Online, fundado em 2011, organizam-se cursos, seminários, exposições e congressos; uma panóplia de actividades pensadas de raiz para um ambiente exclusivamente online. O seu co-director, Jorge Gemetto, reconhece que a pandemia da Covid-19 “mostrou muitas vezes a pior cara das actividades online”, mas realça que, em boa parte, foi porque se tentaram replicar os modelos dos eventos físicos num espaço com outro tipo de características.
Para Gemetto, uma das grandes vantagens do digital é fazer “confluir, no mesmo grupo, pessoas de diferentes cidades e países, com tudo o que isso implica em termos de diversidade”. E acrescenta: “podemos aproveitar a inteligência colectiva para gerar mapeamentos, pesquisas e criações colaborativas de todo o tipo. Podemos partilhar recursos, organizá-los, criar bibliotecas e repositórios”. Ainda que não sejam iguais às que se organizam presencialmente num bairro ou numa cidade, estes acontecimentos ajudam a criar e a fortalecer comunidades, naquilo que considera ser um “aspecto muito rico e libertador [da nossa vida cultural]”. Recentemente, o Ártica passou a integrar a Red de Espacios Culturales del Sur (RECS), sendo o único espaço virtual nessa rede. Surgida em 2020 como resposta à emergência sociocultural imposta pela pandemia, a RECS é uma organização que integra espaços e gestores culturais de sete países da América Latina.
Para lá da cultura, sabemos que as desigualdades políticas, sociais e económicas do mundo presencial tendem a ser replicadas e amplificadas no digital. Do outro lado do Atlântico, a resistência tecnológica ergue-se à volta de comunidades cujo destino é traçado à medida de um futuro cada vez mais periclitante. Nas Américas Central e do Sul, colectivos feministas como o Barracón Digital (Honduras), Luchadoras (México) ou o Coding Rights (Brasil) têm desenvolvido conteúdo e programas de fortalecimento de competências em torno de questões como o software e a cultura livres, os direitos digitais ou a autonomia de infra-estruturas (como servidores, routers e outros tipos de equipamento) enquanto formas de sobrevivência comunitária em regimes e espaços cada vez mais opressivos e antidemocráticos, tanto no online como no offline, em que as banalidades invasivas do corporativismo tecnológico podem ter um custo demasiado alto.
É importante sublinhar que as mulheres estão particularmente expostas à violência digital, num cenário que não dá sinais de mudança.
O Web Index, um relatório da organização Web Foundation que mede as contribuições da web para o desenvolvimento social, económico e político em várias regiões do mundo, indica que 74% dos países não têm implementadas medidas legais adequadas ao combate contra a violência de género online. Nos colectivos já mencionados, e em muitos outros, ensina-se e aprende-se sobre como ter uma existência digital mais segura, fomentando a capacitação técnica de mulheres e outros grupos mais vulneráveis, como pessoas não-binárias e LGBTQI+.
Estes programas estão maioritariamente focados na divulgação de práticas e ferramentas mais seguras, da encriptação de mensagens às plataformas de comunicação, complementados com actividades presenciais em comunidade. O software livre é a escolha primordial para quem precisa de saber que os seus dados não serão partilhados com terceiros, ou que não haverá sequer uma recolha indevida dos mesmos. A natureza voluntária destes colectivos, bem como a necessidade de proteger as suas intervenientes, poderão explicar por que não conseguimos que respondessem aos nossos pedidos de entrevista.
Cimentadas no movimento hacker, são também várias as iniciativas que têm apostado na oferta de alternativas no que diz respeito à infra-estrutura. É o caso da CódigoSur (têm sede jurídica na Costa Rica, mas tentáculos por toda a América Latina e o Caribe), um colectivo com elementos de diferentes movimentos sociais cujo objectivo é também promover a soberania digital, o uso e o desenvolvimento de tecnologias livres sob uma perspectiva de género e espaços de debate sobre estes temas. Garantem serviços de alojamento, de comunicação, de armazenamento de dados, entre outros, assentes no software livre e longe das grandes corporações tecnológicas. No Brasil, a servidora independente Vedetas disponibiliza software livre em rede, nomeadamente Ethercalcs e Etherpads (folhas de cálculo e blocos de notas colaborativos, respectivamente), a grupos feministas que precisem de alternativas que não comprometam a sua privacidade.
De resto, convém não esquecer que “a tecnologia tanto pode ser uma aliada dos direitos humanos como pode levantar novos problemas que não eram previsíveis ou antecipáveis”, lembra Eduardo Santos, da D3. “Existem formas de tentar dar resposta a esses problemas, incluindo a via legal, mas nenhuma é tão eficaz como integrar visões e preocupações relativas aos direitos humanos logo no momento de concepção de qualquer tecnologia.”
O activismo pela cultura livre na América Latina é igualmente visível na área da música. Foi no Chile que se arquitectou o Netlabel Day. Desde 2015, dezenas de netlabels aproveitam o dia 14 de Julho para lançarem centenas de novos registos fonográficos, numa celebração da música livre que conta com participantes de mais de 30 países, em quase todos os continentes. Apesar de ter dado como encerrado o projecto da Elegant Elephant por falta de tempo, em 2021 Cairo Braga reavivou temporariamente a editora para assinalar o Netlabel Day pelo sexto ano consecutivo, produzindo em velocidade relâmpago um novo EP, intitulado Ultimatum/ Imediatum. Este evento talvez seja um grão de areia na construção de uma alternativa digital à distribuição de música actualmente, mas está longe de ser o único. Afinal, lembra Cairo Braga, “a pandemia expôs como o modelo de negócio do streaming, que nada mais é do que as majors mantendo o status quo e sua posição de poder, afunila ainda mais as possibilidades de se viver da música.”
Há, no entanto, quem se atreva a repensar e a tentar modelos de negócio e estruturas mais justas, tanto para os artistas como para quem os apoia (e que vão além do Bandcamp, o caso mais mediático). A plataforma de streaming Resonate (Alemanha) funciona como uma cooperativa que pertence a artistas, ouvintes e aos trabalhadores da empresa. No activo desde 2015, baseia o seu modelo de negócio numa lógica de stream2own, em que ao fim de nove audições a faixa está paga e é como se quem a ouviu a tivesse comprado. Já nos EUA, um grupo de 30 compositores e instrumentistas avant-garde também escolherem a via cooperativista, lançando o seu próprio micro-serviço de streaming no início deste ano. O Catalytic Soundstream distingue-se pela curadoria do conteúdo, bem como pela exclusividade de muito do que lá se pode ouvir, retirando intermediários do processo de distribuição.
Mas o direito à cultura (e, naturalmente, à música) é mais do que um modelo de negócio. Para a programadora e activista Esra’a Al Shafei, do Bahrein, pequeno arquipélago no Golfo Pérsico, “a música é mais do que uma expressão criativa: funciona como uma ferramenta social que amplifica movimentos por justiça e a voz de comunidades marginalizadas”. Em 2010, criou o MidEast Tunes, uma plataforma de streaming orientada para músicos independentes do Médio Oriente e Norte de África, cujos trabalhos são muitas vezes censurados nessas regiões. Financiado por donativos individuais, por bolsas atribuídas pelo Arab Culture Fund e por fundos da União Europeia, este serviço é de acesso gratuito e não exige registo de conta, de maneira a assegurar a privacidade dos ouvintes.
Esra’a Al Shafei faz questão de sublinhar que o software de código aberto é a base de todo o seu trabalho e que “a tecnologia tanto pode ser usada para instaurar censura como para lutar contra ela”. É uma faca de dois gumes. “Dependemos de plataformas de comunicação encriptadas e ferramentas anonimizadas, mas elas têm de ser devidamente auditadas e mantidas, de modo a evitar que sejam comprometidas”, esclarece. “Daí que criar recursos anti-censura e anti-vigilância tecnológica seja um dos passos mais importantes que podemos dar enquanto sociedade, para prevenir a normalização deste policiamento constante das nossas actividades online”. Do lado dos artistas, Esra’a Al Shafei afirma que a recepção tem sido bastante positiva, já que a plataforma lhes oferece uma exposição alargada, incluindo na imprensa local e internacional, chegando a públicos dificilmente alcançáveis de outra forma.
Para lá da distribuição, artistas como Moritz Simon Geist ou Khyam Allami têm desconstruído o processo de composição musical, alargando perspectivas e possibilidades. Geist desenvolveu robôs-instrumento capazes de compor e tocar as suas próprias obras, como já aconteceu em instalações e performances apresentadas no Museu da Ciência em Milão ou na Filarmónica de Paris. Já Allami refuta a ideia de que existe uma neutralidade tecnológica na criação musical ancorada em ferramentas digitais, focando-se na hegemonia ocidental dos fabricantes deste tipo de software. Isso reflecte-se, por exemplo, na má implementação de microtonalidades habitualmente presentes na música tradicional árabe, apesar de protocolos como o MIDI estarem bem preparados para estas variações.
Tal como as desigualdades sociais não foram apagadas pelo digital, também as lógicas colonialistas do capitalismo são replicadas com tenacidade neste contexto. O Ocidente, mais concretamente os EUA, domina a internet com prejuízo significativo para a região Sul. À medida que as principais megacorporações tecnológicas – denominadas por GAFAM, ou seja, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft – se apropriam de conjuntos gigantescos de dados, informações sobre os consumidores, ferramentas e conhecimento, fechando-os como maneira de os controlar e de aniquilar potenciais concorrentes, países com menos recursos económicos ficam à sua mercê, na ânsia de não poderem ficar para trás num mundo inevitavelmente digitalizado.
“Em países como a Índia ou o Brasil, milhões de pessoas acreditam que o Facebook é sinónimo de internet”, nota Cairo Braga, salientando um dos efeitos perniciosos desta hegemonia. Totalizando mais de 1600 mil milhões de habitantes, tanto um como o outro são dos maiores mercados digitais em expansão, algo fundamental para um sistema que favorece o crescimento do lucro. Paralelamente, gigantes tecnológicas chinesas, como a Tencent e Alibaba, disputam acerrimamente com as GAFAM o domínio sobre a infra-estrutura digital do continente africano, onde, segundo as estimativas do Banco Mundial, apenas 22% da população tem acesso à internet.
Urge, assim, minimizar as desigualdades de acesso e os fossos na literacia, sem descurar que os caminhos escolhidos para o desenvolvimento tecnológico definem partes fundamentais da nossa coexistência enquanto cidadãos num mundo permanentemente ligado. Neste contexto, Cairo Braga não tem dúvidas: “É por isso que esse tipo de alternativas [livres] é importante. E fica mais interessante ainda quando notamos que a questão da internet descentralizada e focada na privacidade se fortaleça e ganhe mais espaço justamente quando a internet corporativa do capitalismo neoliberal se torna pior, mais sufocante e cancerígena a cada dia.” Essa dinâmica “reactiva”, diz Cairo, dá-lhe “esperança, até utópica”, de que é possível “salvar a internet” e resignificar o relacionamento que temos com ela e que temos uns com os outros, através dela. No fundo, “transformá-la, de facto, numa rede.”
As Creative Commons são licenças públicas de direito de autor e direitos conexos criadas especificamente para o contexto digital. De livros a filmes, de música a fotografia, hoje existem mais de dois mil milhões de trabalhos licenciados sob Creative Commons, o que significa que têm apenas alguns direitos reservados. Ou seja, podem ser livremente partilhados e distribuídos mediante as condições definidas pelo próprio autor – entre elas incluem-se, ou não, a obrigatoriedade de atribuição de autoria, restrições a utilizações com fins comerciais ou a criação de derivações da obra em causa. Esta modularidade desdobra-se num total de seis licenças, umas mais permissivas do que outras, e uma marca de domínio público para quem queira abdicar de todos os direitos. As Creative Commons tornaram-se particularmente populares junto de instituições ligadas à educação e à preservação cultural, como universidades, bibliotecas ou museus, mas também em circuitos artísticos de produção independente.
Cairo Braga reconhece neste sistema “um modelo alinhado na ética e na prática com a realidade material da cultura na internet”. Espelha a sua “transformação constante e até caótica”, além de ter “um elemento que incentiva à colaboração, à colectividade, e que combate certos conceitos capitalistas e colonialistas de posse e propriedade no âmbito da cultura, simultaneamente respeitando o papel dos autores de uma maneira que ultrapassa a questão do dinheiro”. Em 2012, quando ainda vivia na sua cidade natal, São Paulo, Cairo fundou a Elegant Elephant, que editava sob Creative Commons, apresentando-se como uma netlabel queer e “uma experiência faça-você-mesmo” que visava “proporcionar a artistas não-homens-não-cisgénero-não-hétero espaço e acesso a meios de distribuição digital de música”. No seu manifesto aparecia bem sublinhado: “acreditamos em comunidade”.
English Version
Cairo Braga identifies as a non-binary person, hence we use the gender-neutral pronouns "they/their"
“Software has enabled, in recent decades, a wonderful explosion in artistic production of all kinds. Today, it is almost essential for many disciplines: from a word processor to a video editor, from an image manipulation program to programming environments for arts in new media. Such software is, more often than not, owned by multinational companies. It costs enormous amounts of money and we do not know how it is created. This involves an economic and epistemological barrier.”
These words by Jorge Gemetto, co-director of Ártica – Online Cultural Centre, based in Latin America, sum up the technological inevitability of our days. If it is true that the galloping advance of this area has resulted in the democratisation of cultural consumption and production, for each additional layer of benefits and complexity, there is another surreptitious one in the way each tech-nological novelty is presented and installed in our daily lives.
For Cairo Braga, a Brazilian musician and audiovisual artist living in Portugal, the technological revolution was also a revolution in their life. “I only do music, radio and audiovisual work in a self-taught way since I was 12, thanks to the technological means to which I had access. Technology is not only a tool for freedom but also a means of expanding worlds”, says the artist, who has been producing and editing music independently for over a decade, and was the founder of the Elegant Elephant digital label, which has since been closed down.
Almost twenty years after they first fell in love with music production, they maintains an intimate relationship with machines. However, currently, they values free and decentralised technology more, detailing that they sees them “as the closest we have ever come to an application of anarchist, communist, socialist, and collectivist concepts on the internet, which appears as a (super)structure and not just as a medium, which is always the focus of the discourse of the mainstream press and the media when the subject is the world wide web,” they considers. “This is because if people are encouraged to think of the web as a (super)structure, the power of the dominant corporate media comes into check and clash.”
From the devices we use to essential services, this idea of “superstructure” lies in the fact that most of what happens on the web is in the hands of just over a dozen companies, all megacorporations that have turnovers larger than the GDP of many countries – giants like Google and Microsoft rec-orded historic profits in the second quarter of this year, bringing in $62 billion and $46.2 billion respectively. Progress is designed with virtual assistants that communicate as if they were humans, with home appliances connected to the internet 24 hours a day, with the possibility of controlling almost everything remotely.
However, the other side of the coin is the permanent collection of our data. In other words, perma-nent surveillance. We are constantly being monitored (and shaped): on social media, on the web-sites we visit, in the conversations we have (the fact that we see ads or other content appearing in our feed related to conversations we’ve just had is no coincidence), in the simple act of having our smartphone on when we leave home. “While in the physical world there are limits, including spatial ones, to the persuasion architectures, digitally they can be built on gigantic scales,” wrote Amanda Chevtchouk Jurno in the article Plataformas, algoritmos e moldagem de interesses [Platforms, al-gorithms and the shaping of interests] published in the Brazilian magazine Margem Esquerda (Ed. Boitempo). As the journalist and researcher explained, “the more data the platform collects, the better it will understand users’ behaviours and will generate more accurate predictions and models,” alluding to “dataism”, a concept forged by Dutch professor José van Dijck. Basically, “personal data is the new oil of the internet and the new currency of the digital world”, as Bulgarian politician Meglena Kuneva, former European Union Commissioner for Consumer Protection, rightly said.
Digital existence, therefore, requires a permanent negotiation between the right to privacy and our daily lives, as the daily routine of most people inevitably unfolds in a networked society. This net-work, which started out open, is today a silo of bubbles and gardens that touch each other less and less, reinforcing biases and narrowing visions of the world, excluding those who cannot connect – whether because of financial or logistical barriers, learning difficulties or lack of technical accessi-bility.
Capitalism has turned us into tiny cogwheels that never stop spinning, giving infinite information to machines that determine patterns amid the apparent chaos (see analysis article by Rodrigo Ribeiro Saturnino) and reorganise the world. Although well-oiled, the system is opaque. Outsiders don’t know in which direction the gears turn, or who makes them turn, or where the machines are or who governs them. The frosted glass that separates us from technology hides countless attacks on the digital rights of everyone. Eduardo Santos, president of D3 – Defesa dos Direitos Digitais, a Portu-guese non-profit association, points out that “digital rights are human rights.”
“It is a recent category, which is gaining some autonomy due to the specificity of the issues it raises, but the rights at stake are the same,” he observes. “In some areas there even seems to be a regres-sion, the most obvious case being that of privacy – a right that is not contested in relation to our offline life, but which is very far from being guaranteed when it comes to the internet. D3 has been working hard to promote alternatives that do not compromise human rights at the digital level, not only in public positions but also as representatives of civil society in legislative processes that in-volve this type of issues, both in Portuguese and European contexts.
In political activism around digital rights, it is also important to mention Brazil, where civil society and academic organisations, many of them gathered in the collective Coalizão Direitos na Rede, have been strengthening their position in the fight to defend digital rights. Based in India, but with a global reach, there is the Just Net Coalition, which brings together trade unions and other organisa-tions dedicated to digital rights and whose work also covers topics such as food sovereignty, envi-ronmental justice and feminism.
Even before the internet had a World Wide Web, resistance was echoing through hacker communities linked to academia, slowly but surely seeping into the corporate ranks. In 1984, Richard M. Stallman published the free software manifesto, starting a movement for change that is still being built today. In this text, the American activist, programmer and hacker argues that software should guarantee its users four freedoms: the freedom to run the program, the freedom to study the code, the freedom to improve it and the freedom to redistribute this improved product. At the time, companies such as Google or Amazon were not even on the horizon. The main concern of the then MIT researcher was the entrenchment of software in hardware developed by computer manufacturers. However, the ideology of user freedom against industry impositions has endured.
Over the years, the free software movement has evolved and today its best-known offshoot is open source. The ideological implications of both are slightly different – in practice, all free software is open source, but the opposite is not necessarily true. Opening the source code – the computer code which is a certain software – guarantees not only that the software can be properly evaluated to verify if it meets its requirements safely, but also that it can be improved in a process of constant collaboration between anyone who wants to contribute.
The internet has made the idea of openness spread to other areas, such as science, education or culture. “Free culture is a set of practices and is also a social and cultural movement that emphasises the right to cultural participation on the internet, the right to share culture, to remix artistic works, adapt them, parody them, criticise them, recreate them, make them commonplace,” clarifies Jorge Gemetto. “This movement criticises intellectual property and denounces it as an obstacle to artistic freedom. There is no free culture if there is property over culture. And there is no free society without free culture.” Thus, in all its unfoldings, freedom expresses itself in legal sharing and the possibility of adaptation. In 2001, the leap became official, partially thanks to the creation of Creative Commons licenses, which also came to show one way to make the digital a more communitarian and horizontal medium.
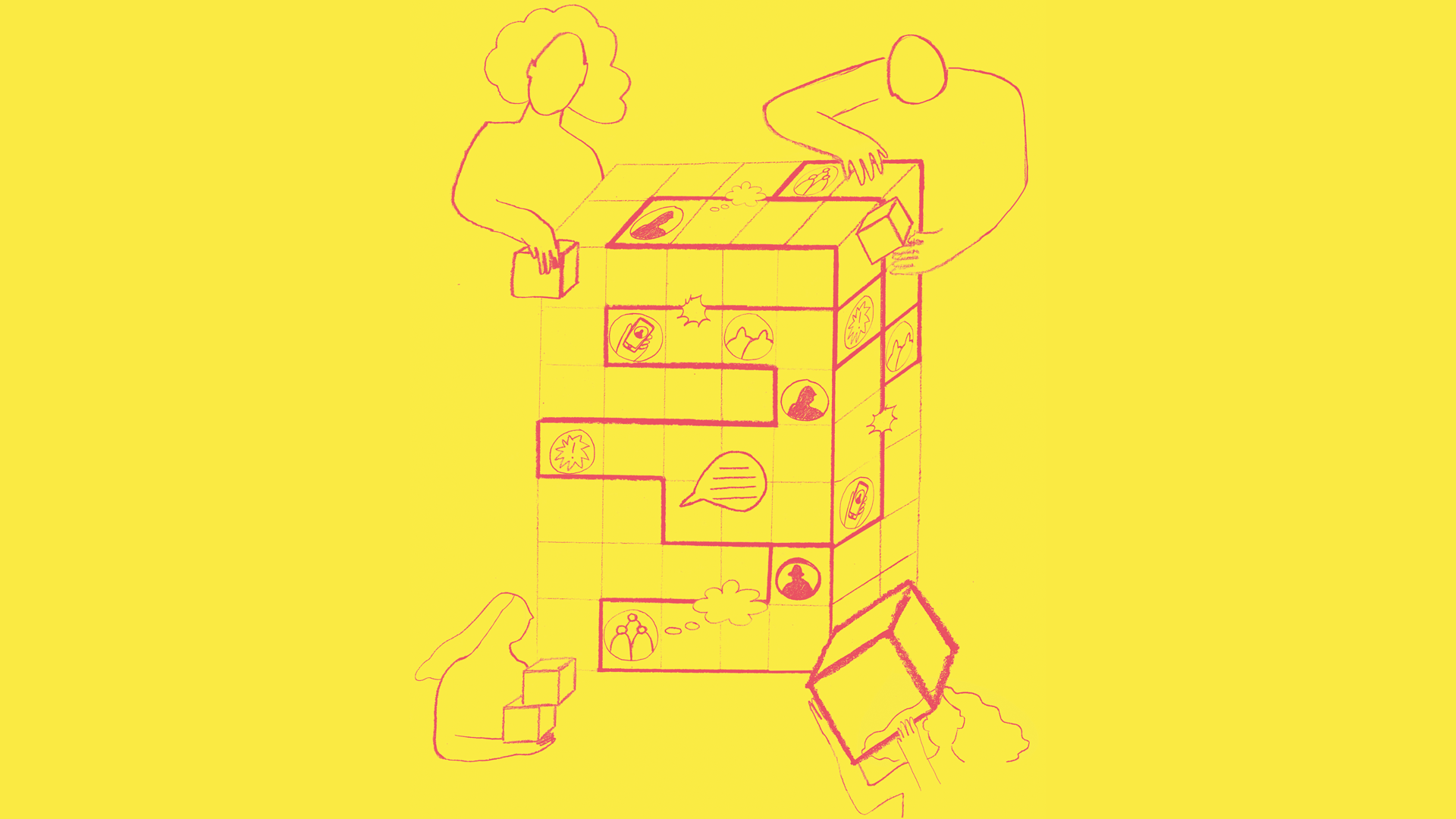
Illustration by Angelina Velosa
The power of the word community has imposed itself on the paths entangled by the advance of communications. And, for some time, this was the word upon which the hope of the internet as a space of democratisation of opportunities rested. Without intermediaries, the world could be the oyster of all creatives, who arrived and prevailed in successive waves, from blogs to social net-works. Along the way, other technologies encouraged debate and participation: forums, mailing lists and chat rooms where users discussed interests and passions and projected alternatives to a system that was clearly not serving everyone . The creation and sharing of common knowledge and resources became the pillar of these gatherings. Cairo Braga’s experience in the netlabel community is, in this sense, emblematic. “It is a community that teaches. It was by reading and following netlabels that I learned how to start one and this was the community that welcomed me and offered a new world of decentralised free culture, where there is room for all”, they says. “I hope it lasts forever because the netlabels community predicted the total and unrestricted digitalisation of music that we are witnessing today.”
United by a common language, Spanish, the Ibero-American free culture movement takes on trans-national dimensions and relevance. Organisations such as Nodo Común or Colectivo Disonancia reject categorisations limited to just one country and operate as delocalised virtual communities, spreading and promoting free, ethical and secure technological tools, with a variety of online re-sources, including technical documentation for beginners. The online cultural centre Ártica, found-ed in 2011, organises courses, seminars, exhibitions and conferences; a panoply of activities de-signed from scratch for an only online environment. Its co-director, Jorge Gemetto, admits that the Covid-19 pandemic “often showed the worst face of online activities”, but stresses it was largely because they tried to replicate the models of physical events in a space with other types of limita-tions.
For him, one of the significant advantages of digital is that it “brings together, in the same group, people from different cities and countries, with all that this implies in terms of diversity.” And he adds: “we can take advantage of collective intelligence to generate mappings, research and collabo-rative creations of all kinds. We can share resources, organise them, create libraries and reposito-ries”. While not the same as those organised face-to-face in a neighbourhood or city, these events help to create and strengthen communities, in what he considers being a “very rich and liberating aspect [of our cultural life]”. Recently, Ártica joined the Red de Espacios Culturales del Sur (RECS) [Southern Cultural Spaces Network], becoming the only virtual space in this network. Created in 2020 as a response to the socio-cultural emergency imposed by the pandemic, RECS is an organisa-tion that integrates cultural spaces and managers from seven Latin American countries.
Beyond culture, we know that the digital space replicates and amplifies the political, social and economic inequalities of the physical world. On the other side of the Atlantic, technological re-sistance is rising around communities whose destiny is being shaped by an increasingly unstable future. In Central and South America, feminist collectives such as Barracón Digital (Honduras), Luchadoras (Mexico) or Coding Rights (Brazil) have developed content and capacity-building pro-grammes around issues such as free software and culture, digital rights or the autonomy of infra-structures (such as servers, routers and other types of equipment) as forms of community survival in increasingly oppressive and anti-democratic regimes and spaces, both online and offline, where the invasive banalities of technological corporatism may have a great cost.
It is important to stress that women are particularly exposed to digital violence, in a scenario that shows no signs of changing. The Web Index, a report by the Web Foundation organisation that measures the contributions of the web to social, economic and political development in various re-gions of the world, shows that 74% of countries have not implemented adequate legal measures to fight online gender violence. The collectives mentioned above, and many others, offer education about how to have a safer digital existence, fostering the technical empowerment of women and other vulnerable groups, such as non-binary and LGBTQI+ people.
These programmes are mostly focused on spreading safer practices and tools, from message encryp-tion to communication platforms, complemented with face-to-face community activities. Free soft-ware is the primary choice for those who need to know that their data will not be shared with third parties, or even collected improperly. The voluntary nature of these collectives, as well as the need to protect their stakeholders, may explain why we couldn’t get a response to our many interview requests.
Rooted in the hacker movement, several initiatives have focused on offering alternatives concerning infrastructure. This is the case of CódigoSur (based in Costa Rica, but with branches all over Latin America and the Caribbean), a collective with members of different social movements whose aim is also to promote digital sovereignty, the use and development of free technologies from a gender perspective and spaces for debate these issues. They guarantee hosting, communication and data storage services, among others, based on free software and far from large technological corpora-tions. In Brazil, the independent server Vedetas provides networked free software, namely Ether-calcs and Etherpads (collaborative spreadsheets and notebooks, respectively), to feminist groups that may need alternatives that do not compromise their privacy.
Moreover, we must remember that “technology can be an ally of human rights and raise new prob-lems that were not predictable or preventable”, recalls Eduardo Santos, from D3. “There are ways to respond to these problems, including the legal route, but none is as effective as incorporating vi-sions and concerns regarding human rights from the very moment of design of any technology.”
What alternatives to music?
The free culture activism in Latin America is also clear in the music sector. Netlabel Day was created in Chile. Since 2015, dozens of netlabels release hundreds of new phonographic records on 14 July, in a celebration of free music that has participants from over 30 countries, in almost every continent. Although Cairo Braga shut down the Elegant Elephant project due to not having enough time, in 2021 they temporarily brought back the label to mark Netlabel Day for the sixth consecutive year, producing a new EP at lightning speed, entitled Ultimatum/ Imediatum.
Perhaps this event might be a grain of sand in the construction of a digital alternative to music distribution today, but it is far from the only one. After all, reminds Cairo Braga, “the pandemic exposed how the streaming business model, which means nothing less than the majors keeping the status quo and their position of power, further narrows the possibilities of making a living from music.” (see analysis article by Liz Pelly).
There are, however, those who dare to rethink and try business models and structures that are fairer both for the artists and for those who support them (and that goes beyond Bandcamp, the most popular case). The streaming platform Resonate (Germany) operates as a cooperative owned by artists, listeners and the company’s workers. Active since 2015, the platform operates through a stream-to-own model, which splits the cost of a download into plays: after nine plays, users effectively pay for the song and can own it outright. In the US, a group of 30 avant-garde composers and instrumentalists also chose the cooperative route, launching their own streaming micro-service earlier this year. Catalytic Soundstream is notable for the content curation, as well as for the exclusivity of much of what can be heard there, removing intermediaries from the distribution process.
But the right to culture (and, naturally, to music) is more than a business model. For the programmer and activist Esra’a Al Shafei, from Bahrain, a small archipelago in the Persian Gulf, “music is more than a creative expression: it functions as a social tool that amplifies movements for justice and the voice of marginalised communities”. In 2010, she created MidEast Tunes, a streaming platform geared towards independent musicians from the Middle East and North Africa, whose work is often censored in those regions. Financed by individual donations, grants from the Arab Culture Fund and funds from the European Union, this service is free to access and does not require account registration to ensure listeners’ privacy.
Esra’a Al Shafei is keen to stress that open source software is the basis of all her work and that “technology can be used both to establish censorship and to fight against it.” It’s a double-edged sword. “We rely on encrypted communication platforms and anonymised tools, but they need to be properly audited and maintained to prevent them from being compromised,” she clarifies. “Hence, creating anti-censorship and anti-surveillance technology resources is one of the most important steps we can take as a society to prevent the normalisation of the continuous policing of our online activities.” On the artists’ side, Esra’a Al Shafei says the reception has been quite positive, as the platform offers them wide exposure, including in the local and international press, reaching audiences hardly reachable otherwise.
Beyond distribution, artists like Moritz Simon Geist or Khyam Allami have deconstructed the process of music composition, broadening perspectives and possibilities. Geist has built robot instruments capable of creating and playing their own music, which have been shown in installations and performances as in the Science Museum in Milan or the Philharmonic in Paris. Allami argues against the principle of technological neutrality in digital music creation, focusing on the Western hegemony of this type of software manufacturers. We can find this, for example, in the poor implementation of functions to make microtonalities commonly present in traditional Arabic music intuitive to use, despite protocols such as MIDI being well prepared to explore these variations.
Just as social inequalities have not been eradicated by digital technology, the colonial logics of capi-talism are also deeply mirrored in this context. The West, namely the US, controls the internet to the significant detriment of the South. As the main mega tech-corporations – also known as GAFAM, that is, Google, Amazon, Facebook, Apple and Microsoft – hold gigantic sets of data, consumer information, tools and knowledge, they lock them up to control them and to eliminate potential competitors. Meanwhile, countries with fewer economic resources are at their mercy, desperate not to be left behind in an inevitably digitalised world.
“In countries like India or Brazil, millions of people believe Facebook is synonymous with the internet”, notes Cairo Braga, highlighting one of the pernicious effects of this hegemony. Totalling over 1600 billion inhabitants, both are among the largest digital markets in expansion, something crucial to a system that favours the growth of profit. At the same time, Chinese technology giants, such as Tencent and Alibaba, are engaging in fierce competition with GAFAM for dominance over the digital infrastructure of the African continent, where, according to World Bank estimates, only 22% of the population has access to the internet.
It is thus urgent to fill the gaps in digital access and literacy, without ignoring the fact that the paths we choose for technological development determine essential parts of our coexistence as citizens in a permanently connected world. In this context, Cairo Braga has no doubts: “That’s why these types of [free] alternatives are important. And it gets even more interesting when we notice that the de-centralised, privacy-focused internet idea is growing strong and gaining ground just when the cor-porate internet of neoliberal capitalism becomes worse, more suffocating and noxious every day.” This “reactive” dynamic, Cairo says, gives they “hope, even utopian hope” that it is possible to “save the internet” and resignify our relationship with it and, through it, with each other. Essential-ly, there is hope to “transform it, effectively, into a network”.
Creative Commons are public copyright licences and related rights created specifically for the digital context. From books to films, music to photography, today there are over two billion works licensed under Creative Commons, meaning they have only some rights reserved. They can be freely shared and distributed under conditions set by the author – these include, but are not limited to, mandatory attribution, restrictions on commercial use or the creation of derivatives of the work. This modularity unfolds into six licences, some more permissive than others, and a public domain label for those who wish to give up all rights. Creative Commons has become particularly popular with institutions linked to education and cultural preservation, such as universities, libraries or museums, but also in independent artistic circuits.
Cairo Braga recognises in this system “a model aligned in ethics and in practice with the material reality of culture on the internet.” It reflects its “constant and even chaotic transformation”, as well as having “an element that encourages collaboration, collectivity, and that fights certain capitalist and colonialist concepts of possession and ownership in the field of culture, while simultaneously respecting the role of authors in a way that goes beyond money.” In 2012, while still living in their hometown of São Paulo, Cairo founded Elegant Elephant, which published under Creative Commons, presenting itself as a queer netlabel and “a DIY experience” that aimed to “provide non-male-non-cisgender-non-hetero artists with space and access to means of digital distribution of music.” In their manifesto, it was well underlined: “We believe in community.”
/ Translation by Marta Gamito